A violência... penso nela há dias. Minto, há semanas inteiras... Meses?, só o teto de minha residência ousaria. Mas é recente o meu melhor esclarecimento acerca dela. Dela, digo, da violência, doravante “dita cuja”. Digo mais, foi há pouco que me caiu a ficha sobre ela. Isso porque eu já percebia algo sobre a dita cuja, mas... Sabeis quando sabemos de algo, conceitualmente falando, mas dada hora cai a ficha, e neste exato momento nos descobrimos não sabedores? Foi isso, eu já sabia e agora sei e sinto, como dois e dois são, de fato, quatro.
Ah leitoras, vós desculpai-me, eu minto. Sabeis, a ficha não caiu não, sequer dois mais dois me parecem quatro. A única coisa que sucedeu foi que, agora, honestamente, desconfio de algo sobre a dita cuja, mas desconfio através de minha morena pele, morena jambu. Porque este último é verde, e esta é a cor do estremecimento.
A dita cuja a que me refiro é aquela fruto da distância, da falta de relação entre os humanos, ou, em palavras bem específicas, essa de alguns coagirem outros para obterem benefícios materiais, por meio do uso astuto e aguçado da psicologia. Quero explicitar melhor, e deixar claro que estou remetendo àquela dita cuja corriqueira, da TV, do rádio, do jornal, dos clichês do corredor. “Ai, esse mundo tá uma loucura, um perigo minha filha”. “Por las calles, ojos abiertos amigo”(em Buenos Aires). “As ruas estão um perigo”. Vós entendestes...
Feita a devida referência à dita cuja, por sua vez tida como o mal dos nossos tempos, e, quem sabe, de todos desde a presença humana na bola basáltica, gostaria de mergulhar no entendimento da minha desconfiança sobre ela. Hoje conversei com um senhor, a quem não quero fazer referências de nome ou sobrenome. Considerai penas um senhor. Classe média alta, 70 anos, ex-funcionário público, residente da minha atual cidade, o Rio de Janeiro. Conversávamos sobre a dita cuja, na forma mais tradicional que se possa imaginar. Dizíamos que tudo anda muito perigoso, que existem ladrões localizáveis por todas as partes, que a polícia não age, que tal pessoa fora roubada, que outra tivera o vidro do carro estourado, e assim por diante...
Sua esposa, muito temerosa com a dita cuja, manifestava sempre os benefícios da precaução, como colocar grades nas portas, etc. Precaução, aliás, inerente às mulheres em geral. Para o referido senhor, por outro lado, solução eficiente contra a dita cuja seria pegar os ladrões e puni-los rigorosamente. Relatou-me, com entusiasmo, casos de delegados que colocaram ordem em cidades pequenas, mas anteriormente violentas, fazendo os bandidos “desaparecerem”. Acho que vós sabeis ao que ele se referia. Ele, o senhor, sugeria que, para a paz nas cidades, era necessário rigor. Rigor mortis mesmo, nu e cru: cruz credo. Vós sabeis que esse posicionamento não é efêmero, tampouco isolado. Ele é comum, institucionalmente em declínio, mas comum. Comunzézimo, convenhamos! Se vós sois alienados, com o direito que a vós cabeis, fica aqui o meu pedido de peidão; desculpai, de “perdão”.
Minha pretensão em argumentar contrariamente ao referido senhor de modo virtuoso e arrogante é ínfima, saibam, afinal quem vos escreve é um ser simples, pensante, mas limitado. A ideia é apenas recolocar mais ou menos o que já foi colocado: o efeito da dita cuja sobre o nosso ser é também fruto da distância. De volta à história que eu vos contava, me recordo que a senhora, a esposa daquele senhor, e o próprio senhor, diziam que não saíam de casa, que pouco interagiam fora da residência. E isso é fato pois, os conheço pessoalmente há muitos anos. Só não conto mais de vinte pois me faltam dedos. Ambos mantêm distância das relações cotidianas exteriores, ambos são, visivelmente, aflitos com a dita cuja.
Percebo, não de modo inédito, que a ocorrência da dita cuja, na forma corriqueira que eu aqui propus, faz com que as interações se evaporem..., ou seja, quanto mais dita cuja, menos interação e, quanto menos interação, mais dita cuja. É uma bola de neve, alimentada pelos traumas do cotidiano, não? Percebeis? Tento traçar uma relação desse fato com a minha atual condição de medo enquanto estou presente no espaço urbano, muito embora eu seja bastante diferente daquele aflito casal. Mas meu medo é decorrente de motivos mesmos que os da maioria dos cidadãos, ou seja, de coações inesperadas seguidas de ausência súbita de bens materiais portáteis e sensação imediata de falta de dignidade: assaltos, roubos e derivados...
Reflito momentaneamente e me pergunto: dadas as configurações da atualidade, seria viável seguir um caminho de interação igualitária (gerando benefícios mútuos) com outros segmentos da sociedade para sentir menos medo no mundo atual? O motivo da pergunta é justamente pela desconfiança de que, uma vez estabelecido que a frequência dos referidos eventos de coação não se alterará tão rapidamente no nosso plano, a aproximação entre pessoas dos “dois segmentos” (digamos assim apenas por hora), ou seja, de representantes dos que nos parecem “coatores” e dos “coagidos”, não seria capaz de minimizar a sensação da dita cuja por parte dos coagidos?
Alguém de vós, digníssimas leitoras, poderia me dizer energicamente “coatores uma ova, estes que dizes coatores são os verdadeiramente coagidos, ó senhor” e a mim restaria calar-me ou concordar, considerando a possibilidade de colocação de um ponto de vista irrefutável: o de que os nomes coatores e coagidos só poderiam fazer sentido na perspectiva dos que tem mais a perder, materialmente falando e, mesmo assim, não admitindo generalizações. Mas digo assim só por hora, mesmo sustentando ainda uma sensação de imprecisão. Mas, creio, não é exclusivamente a questão material que está em jogo. Em jogo está a polarização, um sistema exploratório, modos de vida, valores, possibilidades, acessos, etc.
O que tenho dito até aqui, digníssimas, parece algo um pouco óbvio, de modo que o que impera é a questão de o que se fazer diante do medo, da distância e de tudo isso. Afinal, gostaríeis vós de permanecer com a dupla sensação de, por um lado, perceber tudo isso e, por outro, nada pensar ou fazer para reverter? Ainda que seja do ponto de vista egoísta: para vos sentirdes mais amparadas.
Ando pensando que a sensação de medo pode se esvair (ou ser amenizada) a partir do momento em que nos sentimos no direito de não senti-la. Mas como nos imbuirmos desse direito se não fazemos absolutamente nada para amenizar as diferenças material, cultural e intelectual que existem entre as pessoas? E, lógico senhoras, o direito de que tratamos não é o direito legal (esse, em papel, já nos é garantido), mas o direito psicológico atualizado na realidade em que vivemos.
Nos tornarmos um pouco do outro, gerar uma sensação de pertencimento ao grupo dos que nos parecem coatores, prover de solidariedade a relação com este grupo e conquistar sua solidariedade vêm a minha mente como caminhos para o combate ao medo. Vejais senhoras, a solidariedade tem que ser recíproca, não? A aceitação tem que ser mútua? Sim. E se o for, então não estaríamos tratando de um mero processo de doação, mas de interação seguida de conquista, o que exige condições mais igualitárias.
Pois então ilustres senhoras, termino aqui os meus dizeres, com parcimônia e declarando a intenção de experimentar as minhas observações. Se minhas sensações avançarem para a posição que eu aqui, humildemente, defendo, torno-lhes a escrever o Capítulo II. E se vós achardes que eu observei em uma direção sensata, ó senhoras, e que pensais mesmo que há várias maneiras de encarar os efeitos da dita cuja, então praticai e adiante trocamos nossas figurinhas.
Gilberto L.


















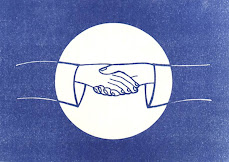




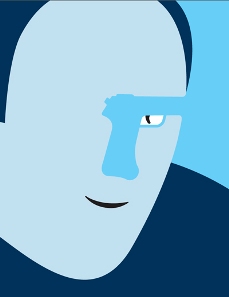


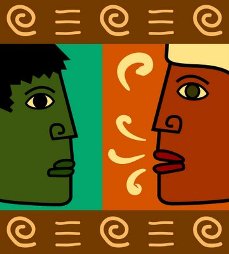












.jpg)




















